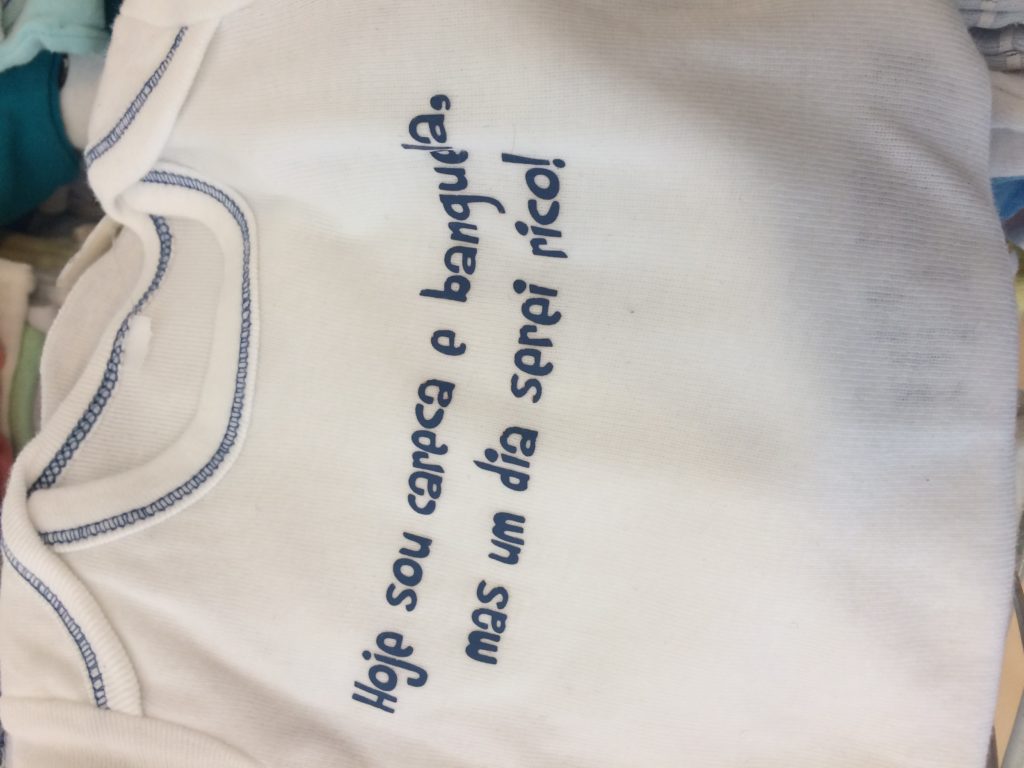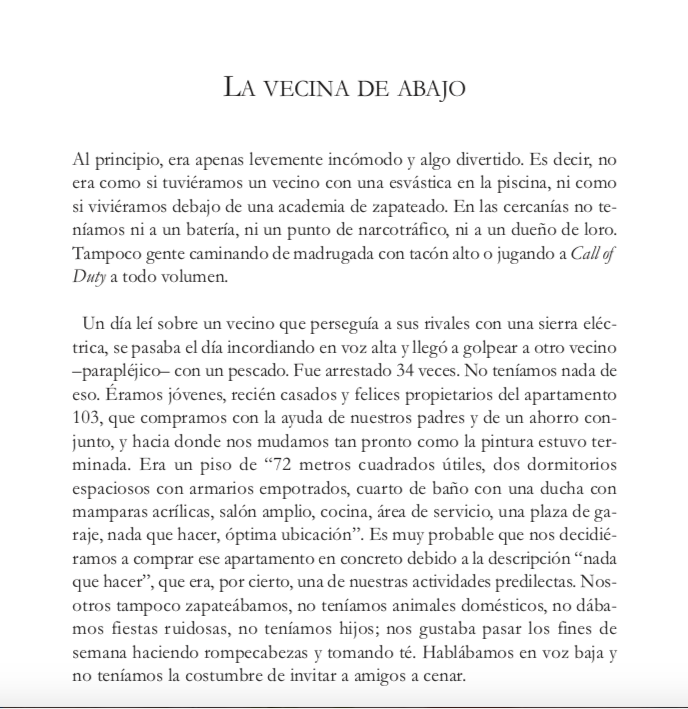Revista Continente
Ed. 214 – Outubro de 2018
por Vanessa Barbara
Ilustrações: Janio Santos
Ninguém sabe tanto de ativismo político quanto Djalma. Aos 56 anos, ele acumula no currículo 37 manifestações, seis ocupações, quatro debates, uma reintegração de posse, dois panelaços e até uma ação direta. Esteve na Avenida Paulista no dia 13 de junho de 2013 e quase foi um dos 241 detidos. No início deste ano, foi proibido pela polícia de entrar na Estação Bresser-Mooca ao protestar contra o aumento da passagem. Já foi atingido por um tiro de bala de borracha no cotovelo, tomou inúmeras cacetadas e costuma se proteger do gás amarrando no rosto uma camiseta velha. A princípio, comparecia às passeatas de chinelo e bermuda, mas hoje em dia não se rende mais a esse tipo de amadorismo. Prefere ir de tênis para correr mais rápido e de calça jeans para se proteger dos estilhaços das bombas de efeito moral.
Não perdeu nenhum dos 11 atos contra a Copa do Mundo, que, na sua opinião, foram extremamente profícuos. Conhece pelo nome vários socorristas, advogados ativistas, fotógrafos, observadores legais e membros da Defensoria Pública. Gosta dos black blocs porque são animados e têm escudos originais, feitos de pranchas de isopor e pedaços de portas, e porque eles lembram a si próprio quando jovem.
Só de olhar, Djalma sabe distinguir uma manifestação boa de uma mais mixuruca. “Tá vendo essas faixas? Quando tem umas bem compridas, caprichadas, é um bom sinal”, declarou, durante uma marcha em apoio à greve dos professores. Bandeiras e bandinhas também são ótimos indícios, embora Djalma esteja se referindo sobretudo à quantidade de presentes.
Ele também sabe calcular – melhor do que ninguém – a probabilidade e a intensidade da repressão policial. Segundo ele, não há uma correlação tão grande entre o número de manifestantes mascarados e a atitude dos homens da lei; importa mais a quantidade de policiais, de viaturas, de motos, de helicópteros e de cavalos. Quanto maior o efetivo, pior. O clima de tensão entre as partes é igualmente relevante para os cálculos de Djalma, que tenta se posicionar de modo a não ficar na mira do Choque nem muito próximo das bandeiras. “Já tomei uma bandeirada e fiquei roxo por duas semanas”, justifica. Ele odeia quando a tropa passa batendo o cassetete nos escudos, de forma ameaçadora, como se estivesse chamando o povo para a briga.
Outra das habilidades de Djalma é identificar policiais infiltrados, os P2, no meio da marcha. “Eles dão muito na cara. Um dia vieram todos com relógio na mão direita, depois todos de camiseta azul. Na marcha contra a crise da água, em 2014, a gente viu uns quatro ou cinco com sacolas da Alô Bebê. Aí se tocaram que não dava para ser assim e desencanaram do padrão”, conta. “Mas continuam dando bandeira. Ficam pescoçando a conversa dos outros, andam por aí de cara fechada.”
Por algum motivo, Djalma gosta de observar cachorros durante a passeata e, em maio do ano retrasado, sacou o celular para fazer o vídeo de um cão que se refrescava numa grade de ventilação. Já chegou a ver quatro caninos no mesmo ato, incluindo um que era puxado pela dona e não queria ir de jeito nenhum: ficou sentado e empacou de vez. “Estava protestando contra o protesto”, deduziu.
Morador do Jardim Peri Alto, Djalma vive dando depoimento para a mídia alternativa – seus dois streamers preferidos são o Arrow Collins e o Peixe Ninja, que às vezes ele acompanha de perto porque acha divertido. A grande imprensa nunca o procurou. Por despeito, ele às vezes vai para trás da barreira policial, onde costumam ficar os repórteres de televisão, e espera começarem as transmissões ao vivo. Então ele passa ao fundo do enquadramento fingindo descer uma escada.
***
Aos três anos de idade, Djalma sofreu uma infecção no ouvido e perdeu 70% da audição do lado esquerdo. Isso é bom e ruim: bom porque ele não se assusta tanto com as bombas, e ruim porque ele não escuta direito o que está se passando. “Nunca entendi uma palavra daqueles jograis do final”, ele admite. “Tenho que viver perguntando para as pessoas se já acabou, se estão dispersando.”
Seja qual for o assunto do protesto, ele sempre se confunde e escuta o povo gritar “lasanha”. Por exemplo:
“Da Copa, da Copa,
da Copa eu abro mão
Eu quero mais dinheiro
pra lasanha e educação”.
Ou
“Vai cair, vai cair
A lasanha vai cair”.
Por isso ele às vezes é visto rindo sozinho, e o sorriso dura até entender o que está sendo dito. (“Ninguém mais luta por lasanha”, lamenta.)
Ele também acha graça na sigla do Coletivo Autônomo dos Trabalhadores Sociais, que em janeiro de 2014 organizou uma série de atos pela melhoria dos albergues da prefeitura. “Que catso esses caras estão fazendo aqui?”, ele repetia, trocadilhesco.
Muitos manifestantes fazem cara feia porque ele não leva o ativismo a sério. Djalma quase provocou uma confusão durante um debate na Praça Roosevelt, em julho do ano passado, quando os policiais jogaram bombas e detiveram advogados e manifestantes. No meio do drama, ele se aproximou de um integrante do Território Livre e sugeriu: “Sabe? Vocês deveriam arrumar outra palavra para usar no lugar de ‘debate’. Porque os caras escutam e só entendem ‘…bate…’. E dá nisso aí”.

***
Num sábado à noite, pela primeira vez, Djalma conseguiu convencer a esposa a acompanhá-lo num ato. Era o mês de junho e inúmeros coletivos se reuniram em uma “Grande Formação de Quadrilha pelos Presos Políticos”. Na ocasião, Dilma e Alckmin contraíram matrimônio, o jogador Ronaldo foi para a cadeia e “manifestantes” e “PMs” fizeram par numa dancinha antológica. Tudo correu bem, ainda que houvesse fileiras de policiais (de verdade) cercando a praça.
A quadrilha teve balancê, “caminho da Rota”, “caldeirão de Hamburgo” e outras figuras tradicionais das festas juninas.
“Olha a democracia!”
“É mentira…”
“O viaduto quebrou!”
“…”
Djalma ganhou uma máscara de PM, que era um xerox grudado num palito, ao passo que a esposa ficou com a máscara dos manifestantes. A polícia revistou e “cumprimentou” os ativistas, que retribuíram a gentileza na mesma medida. Teve até um túnel de corredor polonês patrocinado pela ala dos fardados, além de fogueira, pipoca e amendoim.
Ainda que estivesse muito frio, a esposa se divertiu e permitiu que Djalma continuasse participando das manifestações. Inclusive perguntou quando haveria outra festa junina, de repente ela poderia levar um bolinho para ajudar.
***
Ao longo do tempo, Djalma desenvolveu várias teorias sobre os comandantes das operações: nas áreas mais centrais, os coronéis Freitas e Mascarenhas são bons de papo, mas prendem até grávida; com o major Olavo não dá para conversar, mas ele sabe conter as tropas com pulso firme. Na zona sul, o tenente-coronel Tobias é um cara verdadeiramente legal. Encarregado das regiões mais nobres como Paulista e Jardins, o coronel Bastos deixou crescer o bigode e desde então tem sido generoso na aspersão de gás lacrimogêneo – consta até que já mirou no lendário Homem de Uma Perna Só. “Vão dizer que estou mentindo, mas, na manifestação do dia 16 de janeiro de 2014, eu vi o Homem de Uma Perna Só chutar uma bomba. Te juro. Tá aqui o Haroldo que não me deixa mentir.”
Haroldo é o melhor amigo de Djalma, e o único que aguenta suas graçolas associando os vapores tóxicos do gás de pimenta com os da escova progressiva. Ambos moram no mesmo bairro e se conheceram no centro, durante o “Futebol dos Excluídos” do padre Júlio Lancelotti. Haroldo estava trabalhando nas proximidades e ficou curioso para saber a natureza daquela aglomeração em frente à Sala São Paulo. Tímido, teve de reunir coragem para perguntar a Djalma, que explicou em minúcias do que se tratava e o apresentou a todos. Logo descobriram que eram praticamente vizinhos e ficaram trocando informações sobre conhecidos em comum. Haroldo ganhou uma camiseta, mas não quis jogar por vergonha. No final, juntou-se aos moradores de rua e recebeu um copo de chá e um sanduíche de presunto e queijo. A partir de então, procura Djalma para saber quando será a próxima manifestação e como irão resolver a logística – eles têm muito a aprontar e precisam se preparar com antecedência. Vão juntos, mas se separam quando o ato começa a andar. Haroldo vai para a rabeira e Djalma permanece no meio, rindo e gesticulando.
O amigo de Djalma é mais sério e costuma sumir diante do primeiro indício de tumulto. É menos sociável e mais desconfiado; não puxa conversa com ninguém e já foi confundido várias vezes com um P2, até que Djalma viesse em seu socorro. Também não tem a sagacidade do vizinho. Certa vez, num envelopamento próximo ao Metrô Butantã, foi prensado contra uma parede por uma fileira de policiais com escudos, que não o enxergaram por ele ser baixinho. A cena terminaria em tragédia, se os jovens não viessem socorrê-lo. Talvez pela primeira vez na vida, Haroldo ficou tão bravo, que foi tirar satisfações com o comandante. Conseguiu dizer apenas duas ou três frases de indignação e, para piorar, chamou o tenente-coronel de major.
Ele tem medo de sangue e mantém distância dos socorristas em serviço. Djalma, por sua vez, adora dar uma espiada nas rodinhas de feridos e não hesita em acudir manifestantes assustados, a quem oferece água e um apoio para sair do meio do bombardeio. Já viu fratura exposta, luxações, braço quebrado, buraco na cabeça, paulada generalizada, olho perdido, dentes arrancados. Estava presente quando surraram um policial no Terminal Parque Dom Pedro e não achou aquilo correto. Só não se meteu lá no meio porque acabaria apanhando também.
Viu socorristas serem agredidos repetidas vezes. Numa ocasião, um rapaz tirou o capacete para arrumar os óculos de proteção e tomou uma cacetada na cabeça. Estava com uma câmera na mão, e desmaiou. Em outra, Djalma viu um policial torcer sem dó o pulso de uma socorrista. Também jogaram spray de pimenta numa moça que estava sendo acudida e detiveram inúmeras vezes os membros do GAPP (Grupo de Apoio ao Protesto Popular), inclusive durante um atendimento de fratura no fêmur.
Em 17 de janeiro, Djalma testemunhou o momento em que um socorrista se aproximou de policiais que cercavam 18 detidos. O rapaz perguntou à tropa se havia algum ferido naquela aglomeração, pois ele tinha material de primeiros socorros.
Socorrista: “Aqui na mochila tem soro fisiológico, tem gaze…”
Policial, alarmado: “Gás?!?”
Socorrista: “Gaze! Gaze!”
Djalma repetia essa história aos amigos que ia encontrando, e em todas as ocasiões Haroldo caía na risada como se fosse a primeira vez. Quando não havia repressão, as manifestações eram um ponto alto na vida dos dois, uma oportunidade de travar contato com pessoas diferentes e conhecer a cidade sob um novo ângulo. Chegavam bem cedo e ficavam circulando pela área, cumprimentando conhecidos e perguntando quais eram suas expectativas para o evento. (Djalma quase sempre acertava. Tinha um instinto único para farejar repressão.) Nas poucas vezes em que os manifestantes conseguiam efetivamente terminar o ato – em vez de serem “terminados” –, ambos aplaudiam e se abraçavam, como se tivessem conseguido algo notável. Por outro lado, assim que começavam a ouvir bombas, tinham uma tática: sem correr, encostavam-se num dos cantos da rua e esperavam o tumulto passar. Se a polícia jogasse gás, cobriam os rostos com camisetas velhas. Se disparasse balas de borracha, escondiam-se atrás de um poste ou uma banca de jornal.
Numa manifestação em 9 de janeiro de 2015, acabaram se perdendo quando o Choque cercou a frente e a traseira do ato. Foram para lados opostos e Haroldo se deu bem refugiando-se junto a uma parede; Djalma, no entanto, ignorando os próprios preceitos de segurança, cruzou em disparada a Avenida Consolação e correu para a José Eusébio, uma travessa claustrofóbica ladeada pelos muros do cemitério. Foi um erro. A polícia veio na cola dos manifestantes, que tiveram de se espremer pela rua estreita, onde o gás se concentrou. Alguns desmaiaram, outros quase foram pisoteados. Djalma perdeu um tênis. Na outra ponta, na Avenida Angélica, uma tropa os aguardava.
Foi quando ele tomou seu primeiro tiro de bala de borracha, que na hora não doeu – só depois. Levado ao hospital, passou por uma microcirurgia para a retirada do projétil, que havia sido disparado a menos de cinco metros de distância e estava incrustado no braço, próximo ao cotovelo.
O curioso é que, nessas horas, em vez de sentir medo, Djalma ganhava mais força, como se a adrenalina o tomasse por inteiro e o impulsionasse para a manifestação seguinte. Haroldo dizia que, quanto mais o amigo apanhava, mais forte ele voltava. E mais piadista: na última manifestação contra o aumento da tarifa, quando lhe indagaram se a assembleia popular já havia definido o trajeto da marcha, ele respondeu: “Já. Vamos direto para o DEIC”, afirmou. “Para facilitar, né? Tem um monte de ônibus da polícia ali atrás, passe livre, o pessoal nem precisa andar.”
Alguns riram, outros só suspiraram.
Ninguém sabe tanto de ativismo político quanto Djalma, que vende água a dois reais – três por cinco – e fatura 200 reais nos dias “de manifestação boa”. Atrás da multidão, vai seu amigo Haroldo recolhendo papelão e latinhas de alumínio, com medo da chuva e das bombas que ameaçam cair.
VANESSA BARBARA, jornalista e escritora, colunista do time internacional do The New York Times desde 2013. É autora de Operação Impensável (Intrínseca, vencedor do Prêmio Paraná de Literatura), Noites de Alface (Alfaguara, ganhador do Prix du Premier Roman Étranger) e O Livro Amarelo do Terminal (Cosac Naify, Prêmio Jabuti de Reportagem), entre outros.
JANIO SANTOS, designer e ilustrador da revista Continente.