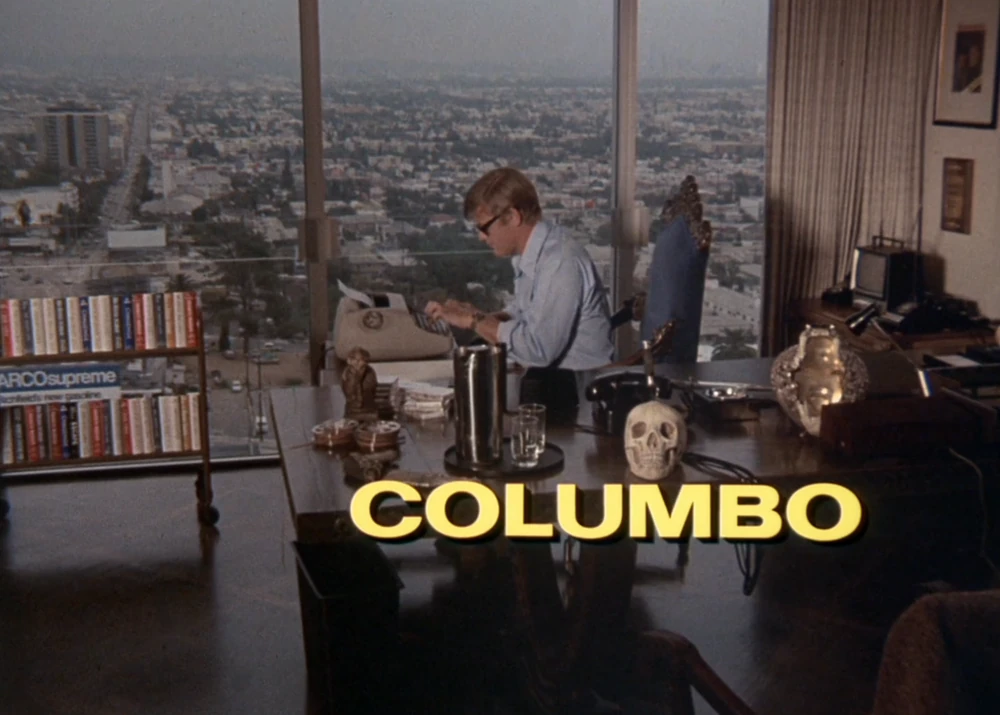
Instantâneo de “Murder by the book” (1971), episódio da série Columbo
Blog da Companhia das Letras
4 de setembro de 2012
por Vanessa Barbara
Instantâneo de “Murder by the book” (1971), episódio da série Columbo.
É um pouco como o “Assassino Terrivelmente Lento Com Arma Extremamente Ineficaz”, curta-metragem de Richard Gale sobre um sujeito que tenta cometer homicídio usando uma colher. “Isso vai soar ridículo, mas ele tem uma colher e dói pra burro”, conta a vítima ao telefone, enquanto o psicopata lhe aplica petelecos com o referido talher.
Mais ridículo ainda é o esquivo assassino da caneta, aquele escritor que, por tédio ou pura maldade, resolve um dia sair da cama e matar um de seus personagens. Assim de repente, entre o almoço e o cochilo da tarde, muitas vezes sem sentir remorso. Pior ainda é quando se trata de um herói, alguém que sinceramente não merecia terminar seus dias atropelado por uma horda de gnus ou atingido por um presunto em queda livre.
“Seja sádico”, recomenda Kurt Vonnegut em suas oito regras para escrever contos. “Não importa o quão doces e inocentes sejam seus protagonistas, faça acontecerem coisas horríveis com eles para que o leitor perceba do que são feitos.”
O psicopata da caneta segue à risca essa norma. Tal qual um Todo-Poderoso, não se importa em causar sofrimento às próprias criaturas, e, quando bem entende, pode eliminá-las no espaço entre um capítulo e outro, muitas vezes sem maiores explicações.
Kafka transformou um de seus personagens em artrópode e sujeitou outro a um pesadelo burocrático fatal; Flaubert induziu uma senhora ao adultério e a matou logo depois; Shakespeare causava tanto sofrimento que levava os outros ao suicídio; Bernard Cornwell começou guerras sangrentas; Stephenie Meyer tem personagens muito ruins e não mata nenhum deles, o que talvez seja pior.
Agatha Christie passava o fim de semana empenhada em arrumar formas engenhosas para eliminar inocentes, pesquisando sobre venenos que não deixam rastros e formas de se obter uma morte lenta e dolorosa; já Stephen King esperava que seus óbitos fossem apenas grotescos, traumáticos. J. K. Rowling diz ter chorado após matar um personagem central de Harry Potter e, quando seu marido perguntou por que então o fazia, ela explicou: “Não é assim que funciona. Quem escreve livros infantis deve ser um assassino implacável”.
Tenho lá minhas reservas e acredito que o escritor deva firmar um contrato de responsabilidade existencial com seus livros, tomando para si a culpa de traumatizar leitores e fazer marmanjos chorarem quando Gandalf é engolido pelo Balrog e só torna a aparecer lá pelo fim do livro, transformado num guru cinzento pouco convincente. Muitos autores deviam ser levados a julgamento a fim de justificar, perante os leitores, se a morte do personagem era realmente necessária e se não havia um jeito melhor de levá-la a cabo — tropeçar e cair nunca é uma opção honrada, assim como não se morre de morte natural nos melhores romances.
Eu mesma tenho um homicídio no currículo: a morte de um de meus personagens mais queridos, o besouro Bob, de O verão do Chibo, por problemas abdominais a esclarecer, isso sem falar numa lagartixa anônima covardemente esmagada, que despencou da árvore com seus olhinhos pidões. Em A Máquina de Goldberg, graphic novel que escrevi em parceria com o Fido Nesti (sairá em breve pela Quadrinhos na Companhia), passei noites em claro me torturando por não ter tido coragem de matar uma tartaruga.
O autor, enfim, tem total responsabilidade pelos seus atos, cenas e diálogos, de modo que, em literatura, estamos cercados de homicídios dolosos. Não consigo imaginar um escritor assassinando acidentalmente um personagem. Há sempre premeditação, frieza, uns quatro ou cinco capítulos preparatórios em que as engrenagens são postas em ação e a pobre vítima segue distraída para o matadouro. Há também preliminares emocionais, como nesses romances em que a gente sabe que alguém vai morrer só porque ganhou destaque de repente, em cenas lacrimosas com seus entes queridos e demoradas passagens ilustrativas de sua história, sua relevância e intenções neste mundo.
Um personagem morto pode continuar a viver na existência dos demais, ou, pior, pode ser ressuscitado por um autor sem escrúpulos, pela pressão financeira de um editor mesquinho ou por puxar os pés de seu criador todas as noites. Sherlock Holmes é um desses casos, e é por essas e outras que não se recomenda decapitar ninguém na literatura. Nunca se sabe quando será preciso suturar o pescoço à cabeça.
E por falar em decapitação indiscriminada e extermínio satisfeito de quase a totalidade de seu próprio elenco, algum dia vão levar a julgamento George R. R. Martin, de As crônicas de gelo e fogo. Esse vai pegar, no mínimo, prisão perpétua. Ou uma pena de morte diligentemente aplicada pelo Assassino Terrivelmente Lento Com a Arma Incrivelmente Ineficaz.
* * * * *
Vanessa Barbara tem 29 anos, é jornalista e escritora. Publicou O livro amarelo do terminal (Cosac Naify, 2008, Prêmio Jabuti de Reportagem), O verão do Chibo (Alfaguara, 2008, em parceria com Emilio Fraia) e o infantil Endrigo, o escavador de umbigo (Ed. 34, 2011). É tradutora e preparadora da Companhia das Letras, cronista da Folha de S.Paulo e colaboradora da revista piauí. Ela contribui para o blog com uma coluna mensal.
Site – Facebook




