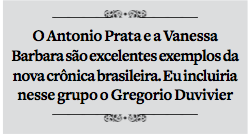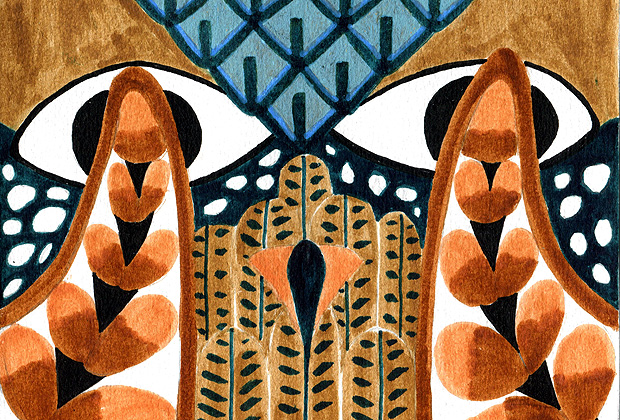Caderno Cultura
Jornal O Extra, de Fernandópolis (SP)
30 de setembro de 2017
por Vanessa Barbara
Estou lendo Retratos Parisienses, coletânea de crônicas escritas por Rubem Braga durante sua temporada em Paris. São entrevistas com pintores, escritores e outros artistas da época, mas com uma particularidade: Braga era tímido e se considerava “o pior repórter do mundo”. Não sabia fazer perguntas e, portanto, chama seus perfis de “visitas”, como no capítulo “Visita a Pablo Picasso”, ou ainda: “Na casa de Georges Duhamel” e “Em Paris, no café de André Breton”.
Plagiando o cronista, descrevo aqui a minha eloquente visita ao escritor Luis Fernando Verissimo, ocorrida em fins de abril de 2013 com o único propósito de tornar-me uma mobília da casa. Fui acompanhada do cineasta Angelo Defanti, que à época cuidava do roteiro de O Clube dos Anjos, e devo ter proferido uma média de cinco palavras por hora, contando as onomatopeias involuntárias e crises de engasgo.
Naquela tarde de segunda-feira, montamos acampamento na residência do escritor, que fica no bairro de Petrópolis, em Porto Alegre. Começamos por um almoço servido pela Lucia, esposa do cronista há mais de cinquenta anos. Confesso que estabeleci uma linha de comunicação bastante satisfatória com Lucinda, neta do escritor, então com 5 anos de idade, uma diminuta e desconfiada loirinha que alternava português e inglês (seu pai é britânico). Enquanto os adultos – Lucia e Angelo – conversavam animadamente sobre cinema e futebol, eu me dedicava a colher informações sobre as bonecas da menina, uma série de monstras superproduzidas com nomes como Draculaura, Bonita Femur e Vandala Doubloons. (A próxima geração de feministas vai ser ótima.)
Emendamos a refeição com um café, e depois Lucia nos levou para conhecer a discreta casa branca, com arcos pronunciados e ares de residência interiorana, adquirida por Érico Verissimo, pai do escritor, em 1942. Ela mostrou o escritório do marido, uma sala no subsolo repleta de papéis, livros e flâmulas do Sport Club Internacional; o estúdio de ensaio da banda Jazz 6, encravado numa caverna de pedra no subsolo (onde sempre faz uns cinco graus a menos); o quintal apinhado de árvores e azaleias; e a área da churrasqueira (forrada de cartuns). Em todos os nichos livres das paredes, inclusive nos recantos mais improváveis, foram instaladas prateleiras para dar conta dos livros. Espalhados aqui e ali, os brinquedos de Lucinda.
Conhecemos também o escritório intacto de Érico, um espaço de tamanho modesto com piso de madeira, uma parede de tijolinhos marrons e uma lareira, cercado por estantes de livros, objetos de arte, abajures e quadros. Um excelente lugar para cometer um assassinato, pensei, tentando não olhar muito fixamente para um revólver antigo pendurado na parede e um sabre em exposição sobre a lareira. No centro da sala, uma poltrona vermelha com um banco acolchoado para apoiar os pés. Verissimo contou que o pai costumava corrigir seus escritos sentado nessa poltrona, usando uma tábua de madeira como apoio. Dali saiu a maior parte de O Tempo e o Vento. Mas só o que consegui imaginar foi um detetive antiquado analisando o cadáver no carpete e chegando à conclusão de que a vítima folheara uma edição envenenada de um pesadíssimo compêndio em latim.
Na sequência, eu e Angelo voltamos para a sala de estar e não fizemos qualquer menção de ir embora, ainda que às três horas aparecesse o fisioterapeuta de Verissimo para uma sessão de alongamento e caminhada. O cronista pediu licença – em sua própria casa – e deixou a sala. Quanto a nós, apenas afundamos no sofá enquanto familiares e amigos entravam, conversavam e saíam. A certa altura ficamos sozinhos e selamos o pacto de que só deixaríamos o local quando nos expulsassem.
*
Convém esclarecer que não foi a primeira vez que entabulei farta conversação com o meu cronista favorito, pelo qual, aliás, sempre devotei uma veneração meio assustadora. (Lá pelos 15 anos, dediquei-me a copiar, à mão, um calhamaço das minhas crônicas favoritas. Hoje tenho uma caixa com 37 livros do escritor, incluindo uma edição de A Mesa Voadora comprada em um sebo por 3 reais, que certa vez tive a pachorra de pedir que ele me autografasse; um exemplar de Humor nos Tempos do Collor que custou 85 mil cruzeiros; e o mais antigo de todos, O Rei do Rock, publicado pela editora Globo em 1978.)
No almoço de confraternização dos convidados da Flip (Festa Literária Internacional de Paraty) de 2008, pedi a meu editor, Cassiano, que me arrastasse até a mesa de Verissimo e fizesse as honras da apresentação, considerando que eu já estava rondando o local há tempo suficiente para que a polícia fosse acionada. Eu disse: “oi!”, e ele respondeu: “oi!”. Puxei uma cadeira. Sempre afetuosa, Lucia tentou engatar vários assuntos aos quais eu provavelmente respondi como se estivesse em um lugar barulhento demais e não entendesse as perguntas. Algo como: “Você mora em que bairro, lá em São Paulo?”, e a resposta: “Vinte e seis!”. Acho que fiz uma ótima figura e devo ter ido embora correndo para respirar num saquinho de papel.
Mais tarde, à beira da piscina do local onde ocorria o almoço, falei “oi!” de novo e ele pareceu concordar enfaticamente. Mencionei alguma coisa sobre a inevitabilidade de tropeçar durante o debate da manhã seguinte, do qual eu iria participar, e ele prometeu que estaria presente.
De fato, na quinta-feira, consegui enxergá-lo sentado na terceira fileira, ao lado de uma sorridente Lucia. Não tropecei nem tive uma crise de soluço. Pouco depois, ainda durante aquela Flip, trombei de novo com o casal e ele me disse que gostou do debate. Eu respondi: “gghghh”.
*
Cinco anos mais tarde, já em 2013, na casa do cronista, posso dizer que retomamos nossa conversa iniciada naquela Flip. Depois que Verissimo voltou da sessão de fisioterapia, juntou-se a seu novo par de vasos decorativos na sala e não pareceu incomodado o suficiente para pedir que fôssemos embora.
Eu havia levado uns livros de presente – minha tradução de O Grande Gatsby, sabidamente um de seus romances favoritos, e o meu livro mais recente, a graphic novel A Máquina de Goldberg. Entreguei o embrulho sem olhar nos olhos de ninguém. Ele me disse: “Obrigado pelos livros”, e eu respondi: “gghghh”.
Enquanto eu hesitava entre um episódio de parada respiratória e o tradicional xixi nas calças, ele folheou a tradução e se deteve nas últimas páginas. Elogiou minhas escolhas para o trecho final, que possui uma reconhecida dificuldade de tradução. Eu talvez tenha dado risada sem motivo ou respondido de alguma outra forma totalmente inadequada. A sorte é que Lucia deve estar acostumada com esse tipo de vexame e gentilmente passou a narrar episódios pitorescos das viagens do casal, acalentando nas mãos os óculos de leitura cuidadosamente dobrados, como se fossem a minha ansiedade.
Em algum momento dessa balbúrdia, surgiu à porta uma amiga da família, a quem fomos apresentados. Verissimo apontou para mim e disse: “Essa é a Vanessa. Ela escreve muito bem”. Mesmo correndo o risco de me tornar repetitiva, “ghghh” foi só o que consegui pronunciar em resposta.
Talvez pela absoluta inevitabilidade da situação, eu e Angelo fomos convidados, por fim, a acompanhar um ensaio particular da Jazz 6, na qual Verissimo toca sax alto. A banda, que é conhecida como o menor sexteto do mundo – pois era formada por cinco integrantes –, esteve na ativa por mais de vinte anos e gravou cinco álbuns.
Naquele fim de tarde, o ensaio ocorreu na caverna do subsolo. Lembro, entre outras coisas, de ouvir “Lullaby of Birdland” e “A Rã”, mas o resto das memórias daquele dia se perdeu em uma nuvem espessa de euforia e afeto. A certa altura, Verissimo puxou a melodia do hino do Internacional, cuja letra, por esses mistérios da vida, eu sei inteira de cor. Sentada ao meu lado, Lucia estranhou. Fui chamada ao microfone para prestar deferência a esse admirável escrete gaúcho que leva “a plagas distantes feitos relevantes”, mas a modéstia me impediu. Intrigado, Verissimo perguntou para qual time eu torcia; “Curíntcha”, eu respondi, com um fio de voz, e todos ficaram com tanta pena que preferiram não fazer mais perguntas.
Ao final do ensaio, a sala se encheu de borbulhantes conversas e Verissimo se sentou ao meu lado, calado. Passamos um tempo acompanhando, em silêncio, aquele soterramento de energia extrovertida e de histórias insólitas, e compartilhando a incredulidade sábia dos tímidos. Vez ou outra, ele fazia um comentário irônico em voz baixa, algo muito sucinto e preciso, e eu contabilizava mentalmente um ponto para o nosso time. Acho que foi o momento mais bonito da visita: não há dúvida de que logramos êxito em mostrar a essas pessoas joviais e desenvoltas do que é feito o nosso derrotismo sarcástico e a nossa empertigada inadequação.
Eu e Angelo só fomos embora depois de assegurar um convite para jantar, dali a pouco, numa churrascaria local.
*
Só agora me dei conta de que as minhas conversas com Verissimo ocorrem de cinco em cinco anos, como se levássemos esse tempo todo para pensar em boas respostas. Isso significa que já está quase na hora de retomar nosso periódico duelo de vivacidade retórica, o que, segundo o calendário, deve acontecer em 2018.
A ideia agora é reproduzir o seguinte diálogo:
Lucia: “Esta é a Vanessa, ela mora na nossa sala desde abril”.
Vanessa: “Oi!”
Verissimo: “Oi!”