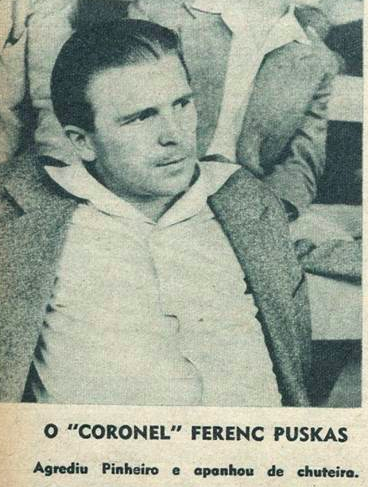Alexis Jang
The New York Times
August 27, 2018
by Vanessa Barbara
Trad. Uol Notícias
É preciso ter determinação para fazer um parto normal no Brasil, e não estou falando só do ato de dar à luz.
Meu país tem um dos índices mais altos de cesarianas do mundo: em 2015, elas corresponderam a 55% de todos os nascimentos. (Em comparação, nesse mesmo ano, os Estados Unidos tiveram um índice de 32% de cesáreas, ao passo que na Suécia estas representaram somente 17,4% dos nascimentos.)
É claro que cesáreas são necessárias e salvam vidas em certas situações, como em casos de prolapso do cordão umbilical ou de descolamento de placenta. Mas, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), quando o índice de cesáreas supera os 10%, não há indícios de que elas ajudem a reduzir a mortalidade materna e neonatal; pelo contrário, a cirurgia pode levar a complicações consideráveis e é por isso que a OMS a recomenda somente quando necessário.
Esse definitivamente não é o caso aqui. Em hospitais particulares brasileiros, os índices de cesarianas são até mesmo mais altos do que em hospitais públicos, chegando a uma média de 84,6%. O procedimento é mais lucrativo para essas instituições, que precisam pensar no dinheiro, e mais conveniente para os médicos, que não precisam esperar por horas pelo processo natural do parto.
Assim, as cesáreas são recomendadas rotineiramente por uma série de pretextos, muitos deles tão implausíveis como: alergia a placenta, asma, escoliose, gengivite, bebê cabeludo demais, partida de futebol entre Atlético e Cruzeiro e, a mais criativa de todas, a teoria de que a evolução tornou o corpo feminino incompatível com o parto.
Cirurgia é a regra; parto vaginal, a exceção.
Então, quando expressei minha vontade de deixar a natureza seguir seu rumo antes do nascimento de minha filha, dois meses atrás, minha ginecologista-obstetra disse que ela consentiria “somente se tudo corresse perfeitamente até a data do parto”.
Ela não parecia notar que sua lógica estava invertida: o parto natural é que deveria ser a norma, a menos que houvesse algo de errado. Mas talvez isso fosse esperado de uma médica que, de acordo com números do meu plano de saúde, tem uma taxa de 80% de cesáreas. Quando perguntei por que ela não havia feito mais partos vaginais, ela disse que hoje em dia a maioria de suas pacientes enfrentavam complicações durante a gestação. Aparentemente o Brasil é o país das anomalias estatísticas.
Nós, que queremos um parto normal, muitas vezes precisamos recorrer a pequenas casas de parto com uma equipe de parteiras e enfermeiras, onde não costuma haver anestesia disponível, ou a hospitais públicos, onde, de acordo com um estudo da Fundação Perseu Abramo, as mulheres têm maior probabilidade de sofrer violência obstetrícia, ou seja, agressões físicas, sexuais e verbais da equipe médica durante o parto.
Uma terceira opção é contratar uma “equipe de parto” completa com profissionais particulares (composta de um obstetra ou uma parteira, uma enfermeira, uma doula, um anestesista e um neonatologista) que atende a paciente em casa ou em um hospital particular. Mas a maioria das mulheres não têm condições de pagar seus honorários, que giram em torno de US$ 4.000 (R$ 16,5 mil).
De qualquer forma, é necessário se preparar antecipadamente. Eu, por exemplo, li o “Intrapartum Care for a Positive Childbirth Experience” da OMS (ou “Cuidados para uma Experiência de Parto Positiva”). Também é preciso registrar um plano de parto com suas escolhas a respeito do processo.
O meu continha exigências que deveriam ser óbvias, tais como a possibilidade de se movimentar livremente durante o trabalho de parto, escolher a posição do expulsivo e ter a presença do meu marido na sala, além de uma longa lista de intervenções rotineiras – mas possivelmente prejudiciais – que eu não queria, como depilação pubiana, enema para evacuação e ruptura artificial de membranas.
Em minhas pesquisas também descobri que não existem indícios suficientes da eficácia de um procedimento chamado episiotomia, uma incisão cirúrgica da vagina feita supostamente para proteger o assoalho pélvico de lacerações. O procedimento foi amplamente adotado no passado, mas seu uso tem se reduzido continuamente ao longo das quatro últimas décadas, uma vez que os estudos têm mostrado que ele não somente não traz benefícios como também pode até contribuir para lacerações mais graves e disfunção do assoalho pélvico. Mas no Brasil as episiotomias ainda são realizadas em 53,5% dos partos.
Quando minha obstetra disse: “Eu faço episiotomias todas as vezes”, decidi procurar outro médico. (Ela também disse: “Ninguém merece um parto de 12 horas, certo?”, ainda que eu não fosse me incomodar com isso.)
Em vez de uma equipe inteira, decidi contratar somente um obstetra e uma enfermeira, que seriam complementados pela equipe do hospital. As contrações começaram em uma manhã de domingo, no meio de uma partida da Copa do Mundo entre a Inglaterra e o Panamá. Eu estava em casa quando comecei a me sentir estranha e pingar um pouco de sangue.
Quando começou a partida entre Japão e Senegal, eu já estava vomitando suco de laranja e ligando para a enfermeira desesperadamente. A certa altura vi um urubu preto pousando sobre o telhado do prédio vizinho. (É sério.)
Quando a enfermeira chegou, quatro horas após o início do trabalho de parto e várias duchas quentes depois, eu estava com quase 8 cm de dilatação. Corremos para um dos hospitais cobertos pelo meu plano de saúde (com uma taxa de 88% de cesáreas), onde me deram uma anestesia combinada de duplo bloqueio que me devolveu a alegria de viver.
A próxima etapa envolveu sete horas de exercícios, massagens e alguns passos de lindy hop ao som de “Fly Me to the Moon”. A equipe do hospital às vezes caía nos mesmos procedimentos de rotina incutidos neles por milhares de cesarianas: a obsessão com a assepsia, por exemplo, era absurda. Lembro-me claramente de uma enfermeira que tentava trocar um lençol sujo embaixo de mim enquanto eu tentava me concentrar em uma contração, embora já houvesse muito sangue e vômito por toda parte. Mais tarde vieram verificar, várias vezes, pontos cirúrgicos que não existiam.
Durante todo o processo, o anestesista do hospital não me deixou comer ou beber nada, para o caso de eu precisar de uma cesárea. (Uma revisão feita recentemente pela Cochrane, uma organização independente internacional que produz avaliações sistemáticas de evidências sobre tratamentos de saúde, não encontrou nenhum indicativo que justificasse esse protocolo.)
Quem poderia imaginar que, em jejum, passar várias horas em trabalho de parto começaria a soar impossível e uma cesárea começaria a parecer uma escolha sensata? Felizmente minha obstetra conseguiu contrabandear para o quarto vários copos de água e gelatina de pêssego, e foi assim que consegui dar à luz minha filha Mabel: com a ajuda de anestesia, exercícios e gelatina. Era quase meia-noite.
O fato de eu conseguir fazer isso sozinha e imediatamente segurar Mabel em meus braços, amamentando-a por quase uma hora, era um pequeno milagre em um cenário tão medicalizado e paternalista.
É uma pena que seja necessário tanto esforço, dinheiro e conhecimento para que uma mulher consiga ter o que deveria ser normal. Afinal, um parto vaginal é o desejo de 72% das mulheres brasileiras no começo de suas gestações; nos meses seguintes muitas delas são convencidas a fazerem cesáreas, às vezes só pela conveniência de seus médicos.
Pensando bem, isso não surpreende em um país onde o aborto ainda é ilegal. No parto, assim como em tantas outras questões relacionadas aos direitos da mulher, todos querem opinar sobre o que deveríamos fazer. Aqui, o verdadeiro milagre é uma mulher ser ouvida.
* Vanessa Barbara, colunista de opinião, é editora do site literário A Hortaliça e autora de dois romances e de duas obras de não ficção em português.
Este texto foi publicado em inglês na página A23 da edição nacional do The New York Times de 28 de agosto de 2018, com o título: Land of the C-Section.