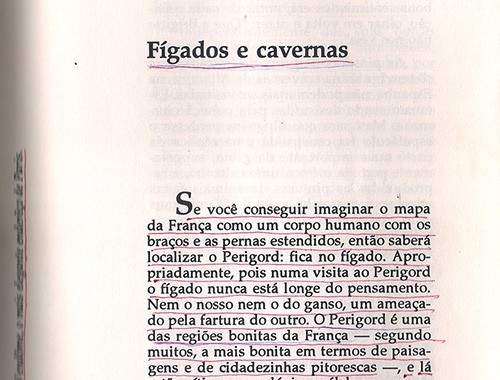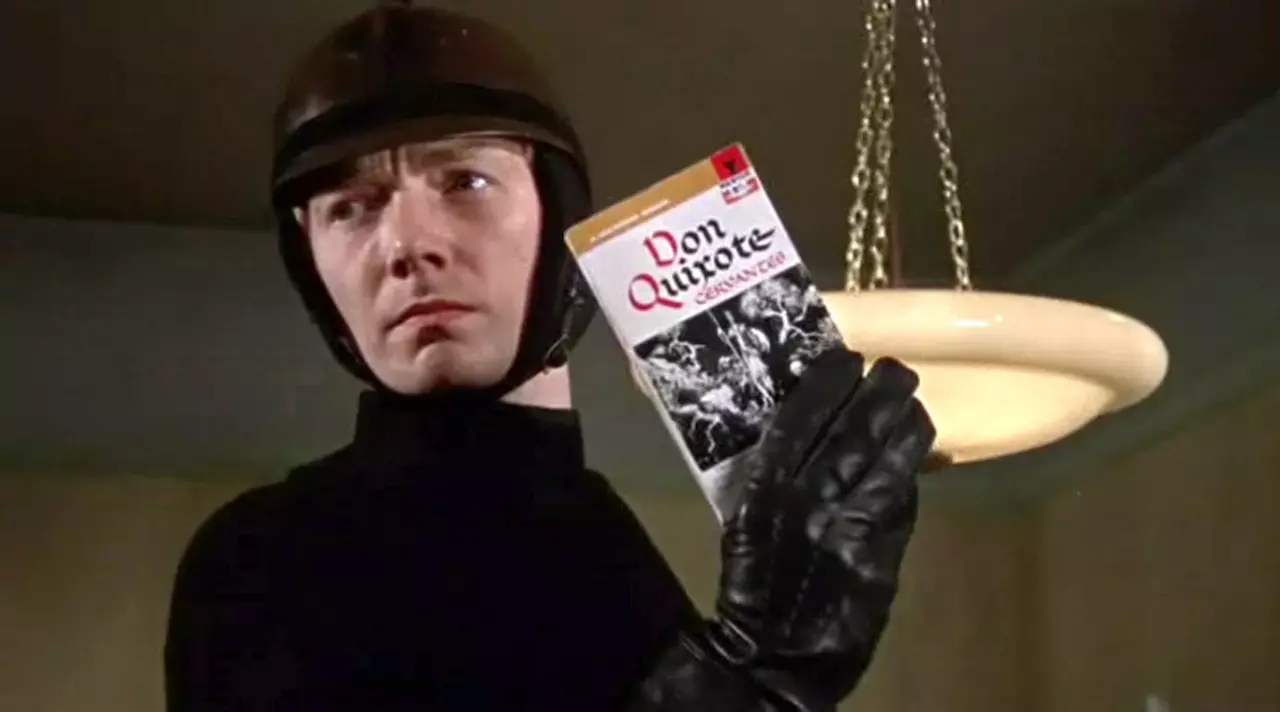Tipos paulistanos: O sem-carro
Sinistro foi o dia em que Diesel concebeu o seu funesto engenho
por Vanessa Barbara
Piauí n. 58
Julho de 2011
Apesar da tolerância padrão de duas horas, as reuniões da Sociedade Paulistana dos Sem-Carro (SOPASECA) sempre começam atrasadas. A chegada dos associados e o estabelecimento de quórum dependem de fatores meteorológicos, geográficos, sísmicos, sindicais (greve dos metroviários, operação tartaruga da Viação Sambaíba) e subjetivos. Ainda que os encontros sejam marcados na vizinhança de estações de metrô, os membros geralmente precisam tomar duas conduções, seguidas de um trem (com baldeação), uma van clandestina, uma carona na rabeira de um caminhão e um trecho de paralelepípedo vencido a pé, totalizando um percurso que leva, em média, uma hora e quarenta minutos. Sem chuva.
Os sem-carro podem sê-lo por opção ou circunstância. No primeiro caso, minoritário, alinham-se autofóbicos e descoordenados. No segundo, pobres e novos-pobres. Em ambos, trata-se de uma condição penosa, que implica desafiar a normalidade social e as prerrogativas vigentes de sucesso, como quem tem seis dedos na mão direita ou torce para a Portuguesa – há quem padeça de ambas as condições, e ainda assim tem um possante na garagem.
Os sem-carro ostentam um senso de equilíbrio aguçado e nunca estão fora de forma. Não só conseguem se manter de pé como caminham galhardamente pelo estreito corredor de um Jardim Pery Alto–Santa Cecília com vistas a cumprimentar os presentes, tudo isso com uma sacola de travesseiros na mão esquerda, uma samambaia na outra, um triciclo debaixo do braço e um caso crônico de labirintite.
De índole liberal, não se deixam abalar pelo contato físico com os demais passageiros e não se envergonham de cair no colo de desconhecidos nas curvas mais fechadas. Nem fazem caso de, por conta de uma freada brusca, quicar vigorosamente pelos balaústres, bater a barriga na catraca ou colidir com o passageiro à frente, que tem feridas e uma verruga gorda que solta pus.
***
Os sem-carro sabem de cor o poema de W. H. Auden que diz: “Odioso foi o dia em que Diesel concebeu seu motor maléfico.” Eles odeiam os motorizados. É por culpa dessas criaturas torpes que somos obrigados a gastar quarenta minutos para percorrer três quadras da avenida Paulista, constipada de trânsito e de filas quádruplas de carros ocupados por uma única e peçonhenta alma, que ainda por cima canta em voz alta e aproveita o sinal fechado para cutucar o nariz. Da estação Brigadeiro até a avenida Angélica, na hora do lufa-lufa um peregrino a pé, com seu cajado, vence o percurso na mesma velocidade do ônibus, e ainda toma um café, troca ideias com um Hare Krishna e fortalece a panturrilha.
Só não se pode garantir que ele chegará a salvo no destino, pois, como todo motorista sabe, pedestre não é gente: é alvo. Em grande parte dos cruzamentos não há semáforos com bonequinhos verdes à espreita, a via tem três mãos de tráfego e só falta caírem carros do céu, bem em cima do desprotegido passante. Nessas horas, o sem-carro deve se valer do senso acurado de timing que possui desde a infância, e que vem a ser a mesma habilidade que nós, meninas, temos de entrar e sair de uma corda dupla em movimento, na época da pré-escola, sem tropeçar ou levar uma chicotada. Atravessar a rua sem farol é como pular corda pela própria vida, devendo o pedestre ter noções de física, velocidade angular, direção do vento e intensidade mínima do pique. Também é recomendável vestir roupas chamativas e ter boa capacidade pulmonar, sob pena de tombar exausto, em plena via, e terminar como um ex-pedestre.
Os sem-carro são acrobatas das ladeiras, equilibristas do coletivo, intrépidos beduínos a quem dá mais trabalho chegar ao trabalho do que trabalhar. Ainda assim, são pacientes, pois sabem como ocupar a mente no interior de um sacolejante Santana–Jabaquara. Filósofos por falta de opção, têm revelações profundas sobre a existência humana sempre que o ônibus quebra, o motorista erra o caminho ou a composição estanca, por conta do que se costumou chamar de “objeto na via” – um guarda-chuva ou um suicida nos trilhos.
“Nada como um bonde lento para meditar sobre o significado de todas as coisas”, afirmou Luis Fernando Verissimo, numa crônica sobre Porto Alegre. “O bonde Petrópolis subia a Protásio Alves como um velho subindo a escada, devagar e se queixando da vida. Sempre achei que se a linha do meu bairro fosse um pouco mais longa eu teria decifrado o Universo.” E acrescentou: “Se hoje tenho um pouco de equilíbrio emocional, bons reflexos e o mínimo de caráter para não dar na vista, devo tudo ao Petrópolis até o fim da linha ou J. Abbott.”
Além de se revelarem pensadores compulsórios e promissores, os sem-carro também aprendem a dormir impassíveis, sem cabecear ou apoiar-se no ombro de um desconhecido ao lado. Para um bom membro da SOPASECA, a habilidade mais invejada é a de cochilar em pé, feito um sábio hindu em estado de graça. Os sem-carro acordam antes de o sol nascer, moram longe e vão a pé. Têm sono o tempo inteiro e, no Mandaqui, já foram pegos dormindo enquanto caminhavam, numa espécie de sonambulismo ao contrário.
***
“A gente chamava isso de ‘piscina’”, explicou Millôr Fernandes. O humorista morou quinze anos no subúrbio do Méier, no Rio, e ia trabalhar e estudar de bonde. “Quando você mora muito longe é assim, você chega em casa meia-noite, uma hora, duas, bate com a mão na parede e volta. Já está na hora de trabalhar de novo.”
Os sem-carro agradecem diariamente ao Altíssimo pela ausência de escoriações graves e por permanecerem razoavelmente vivos. Eles são atropelados na calçada, na faixa de pedestres, no corredor de ônibus, nos estacionamentos e postos de gasolina por veículos que dão preferência a si mesmos, buzinando alegremente para apressar os velhinhos tísicos que estão no caminho. Os sem-carro incomodam desde Fuscas a caminhões, passando por vans, táxis, motos e os que querem estacionar no meio-fio, bem onde um cego está esperando para atravessar.
No que tange à orientação espacial urbana, os membros da SOPASECA só sabem fazer o “caminho do ônibus”, e por isso se quedam extremamente confusos quanto às rotas mais simples e a menor distância entre dois pontos – sobretudo quando o metrô entra na terra e eles se põem automaticamente a dormir, como em estado de animação suspensa.
Quem não é do time vai às festas usando vestidos de crepe e sandálias de salto agulha, enquanto os sem-carro vão de galochas, metidos num impermeável cor de laranja e com uma mochila nas costas cheia de lanches, livros, mapas, canetas, uma muda de roupa, esmalte, tesourinha de unha e equipamentos para enfrentar cataclismos climáticos. Quando perdem o Bilhete Único, cedem ao desespero.
Os sem-carro chegam à balada com os pés encharcados, ainda que tenham tido o cuidado de meter um saco de supermercado por dentro do tênis, e tentam ignorar os olhares de incredulidade dos demais. Enfrentam frio, vento e fuligem. Quando enfim alcançam o destino, já é hora de voltar – o último ônibus sai à meia-noite e meia, o metrô só abre às quatro, meus pés estão gelados e amanhã a Portuguesa vai jogar. Sabe como é.