Site EmCrise
1 de abril de 2003

por Charles Dickens*
Trad. Vanessa Barbara
É estranho que, com tão pouca atenção – boa, má ou indiferente -, um homem possa viver e morrer em Londres. Ele não desperta o mínimo de simpatia no coração de uma pessoa sequer; sua existência interessa a ninguém, exceto a ele mesmo; não se pode dizer que será esquecido quando morrer, pois dele ninguém se lembrava enquanto vivia. Há uma classe numerosa de pessoas nesta grande metrópole que parece não possuir um único amigo, e com quem ninguém parece se importar. Impulsionados pela necessidade imperativa, em primeiro lugar, eles recorreram a Londres à procura de emprego e de meios de subsistência. É duro, nós sabemos, quebrar os laços que nos ligam aos nossos lares e amigos, e mais duro ainda apagar as centenas de lembranças de dias felizes e velhos tempos que estiveram adormecidos em nosso peito durante anos e se precipitam à mente trazendo consigo associações relacionadas aos amigos que deixamos, às paisagens por nós contempladas provavelmente pela última vez e às esperanças que um dia cultivamos, mas que provavelmente não serão mais cogitadas. Esses homens, entretanto, felizmente para eles, esqueceram há tempos tais pensamentos. Velhos amigos da cidade natal morreram ou emigraram; antigos correspondentes perderam-se, como eles mesmos, na multidão e no caos de alguma cidade atarefada; e eles gradualmente foram se estabelecendo e transformaram-se em meras criaturas passivas de hábito e perseverança.
Certo dia, estávamos sentados nos arredores do St. James Park quando nossa atenção voltou-se para um homem que imediatamente reconhecemos como alguém dessa categoria. Era um sujeito alto, magro e pálido em um casaco preto, calças leves e cinzas, polainas ligeiramente apertadas e luvas marrons de pele de castor. Ele tinha um guarda-chuva na mão – não para utilizá-lo, pois o tempo estava firme – mas, evidentemente, porque sempre o carregava pela manhã, a caminho do escritório. Andava de lá pra cá, próximo ao pequeno trecho de grama onde as cadeiras estavam postas para alugar, não como se estivesse fazendo isso por prazer ou distração, mas como se fosse uma questão compulsiva, como se ele fosse dirigir-se ao escritório toda manhã vindo das longínquas paragens do povoado de Islington. Era segunda-feira; ele havia escapado por 24 horas da escravidão da mesa de trabalho; e estava caminhando por exercício e passatempo – talvez pela primeira vez na vida. Estávamos inclinados a pensar que nunca tinha tido uma folga antes e que não sabia o que fazer consigo mesmo. As crianças brincavam na grama; grupos de pessoas matavam o tempo, papeando e rindo; mas o homem andava no mesmo lugar, pra cima e pra baixo, distraído e ignorado, seu rosto pálido a olhar o mundo como se fosse incapaz de suportar qualquer expressão de curiosidade ou interesse.
Havia algo nas maneiras e na aparência do homem que nos revelou, segundo imaginamos, toda a sua vida, ou melhor, todo o seu dia, pois para um homem desse tipo não há variedade de dias. Julgamos que era quase possível vislumbrar seu pequeno e encardido escritório de fundos, no interior do qual ele andava a cada manhã, pendurando seu chapéu no mesmo cabide e posicionando suas pernas sob a mesma mesa: primeiro, tirando seu casaco preto que dura o ano inteiro e vestindo aquele que durou o ano anterior, e que ele usa no escritório para poupar o outro. Lá ele fica sentado até as cinco da tarde, trabalhando o dia todo, tão regularmente quanto o relógio em cima da lareira, cujo escandaloso tique-taque é tão monótono quanto toda sua existência: apenas levanta a cabeça quando alguém entra no escritório de contabilidade ou quando, no meio de algum cálculo complicado, ele olha para o teto como se buscasse inspiração na empoeirada clarabóia com um nó verde no centro de cada lado do vidro. Aproximadamente às cinco, ou meia hora antes, ele vagarosamente desmonta de seu banco costumeiro e, novamente trocando seu casaco, segue ao seu habitual local de jantar, em algum lugar perto de Bucklersbury. O garçom recita o preço da refeição de um jeito bastante reservado – pois ele é um cliente habitual – e, após perguntar: “O que há de mais suculento?” e “O que foi preparado mais recentemente?”, ele pede um pequeno prato de rosbife com salada e um copo de cerveja preta. Opta por um prato pequeno hoje porque a salada de folhas estava um penny mais cara do que as batatas e ele pedira “dois pães” ontem, com o abuso adicional de “um queijo” anteontem. Tendo esclarecido este importante assunto, ele pendura seu chapéu – havia o tirado no momento em que se sentara – e arruma o jornal de acordo com o cavalheiro sentado à sua frente. Se consegue fazê-lo enquanto está jantando, alimenta-se com deleite ainda maior; balançando o jornal contra a garrafa de água, e comendo um pedaço de bife, e lendo uma linha ou duas, alternadamente. A cinco exatos minutos de seu horário acabar, ele saca um shilling, paga a conta, deposita cuidadosamente o troco no bolso de seu colete (deduzindo, antes, um penny para o garçom) e volta ao escritório, de onde, se não é noite de postar cartas ao estrangeiro, ele sai mais uma vez, aproximadamente meia hora depois. Então volta pra casa no seu ritmo habitual, até seu quarto nos fundos em Islington, onde ele toma chá; talvez confortando-se durante a refeição com a conversa do filho pequeno da senhoria, que é geralmente gratificado com um penny por resolver problemas simples de adição. Às vezes, há uma carta ou duas para levar a seu patrão, na praça Russel; e então o saudável homem de negócios, ouvindo sua voz, chama-o da sala de jantar, – “Entre, sr. Smith”, e o sr. Smith, deixando seu chapéu aos pés de uma das cadeiras da sala, entra timidamente, e, sendo convidado com certa arrogância a sentar, dobra com cuidado as pernas sob a cadeira, senta-se a uma considerável distância da mesa onde ele bebe o copo de sherry que lhe é servido pelo filho mais velho, e após beber, ele se afasta e desliza para fora da sala, num estado de agitação nervosa do qual não se recupera perfeitamente até que se encontre novamente na estrada de Islington. Pobres, inofensivas criaturas são os homens como ele; satisfeitos mas não felizes; humildes e com almas despedaçadas, eles podem não sentir dor alguma, mas nunca conhecem o prazer.
Nota da tradutora
* Sketches by Boz é uma coletânea de artigos escritos por Charles Dickens ao Morning Chronicle e a outros periódicos, de 1833 a 1836. É considerada por Tom Wolfe uma das obras que impulsionaram o novo jornalismo, por conter descrições do dia-a-dia de figuras londrinas típicas: cocheiros, cobradores de dívidas, velhas damas, casais. O trecho acima pertence ao primeiro capítulo da parte denominada “personagens”, e faz as vezes de introdução a onze instantâneos de tipos londrinos.”Boz” era o pseudônimo então usado pelo autor.

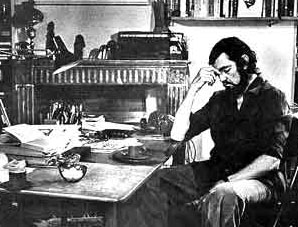
 Poemas vêm da estranheza
Poemas vêm da estranheza