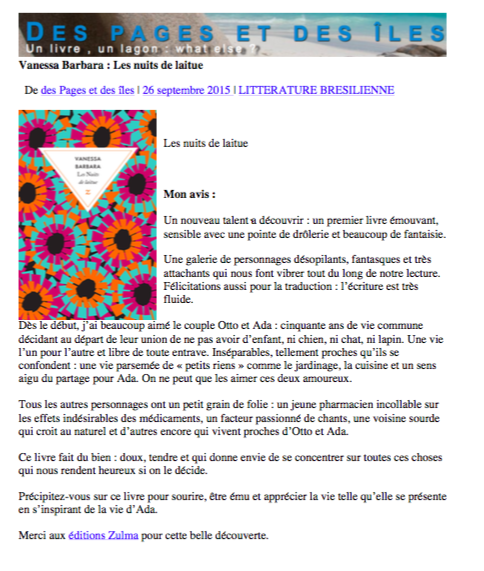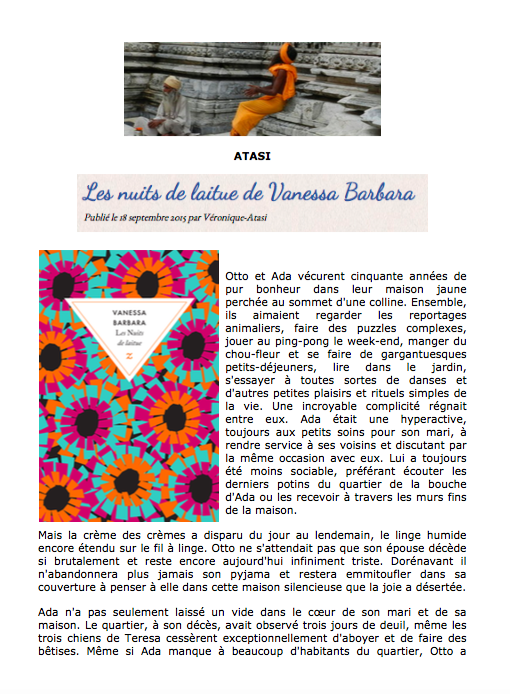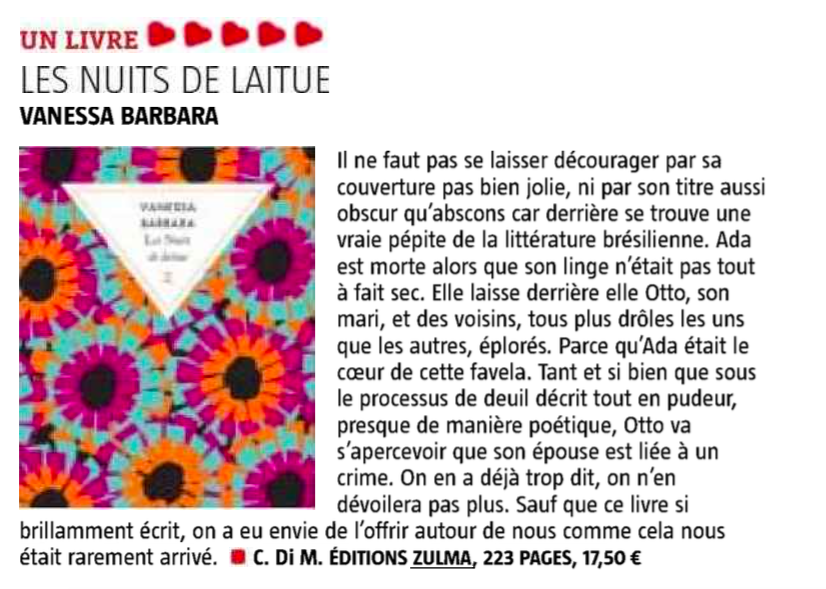Des pages et des îles (France)
26 Septembre 2015
Les Nuits de Laitue (clipping)
Posted: 25th outubro 2015 by Vanessa Barbara in ClippingTags: Les Nuits de Laitue, Noites de Alface, Zulma
Les Nuits de Laitue (clipping)
Posted: 25th outubro 2015 by Vanessa Barbara in ClippingTags: Les Nuits de Laitue, Noites de Alface, Zulma
Les Nuits de Laitue (clipping)
Posted: 25th outubro 2015 by Vanessa Barbara in ClippingTags: Les Nuits de Laitue, Noites de Alface, Zulma
La lunga notte del signor Otto (clipping)
Posted: 24th outubro 2015 by Vanessa Barbara in ClippingTags: Garzanti, La lunga notte del signor Otto, Noites de Alface
Estranhos se afogando
Posted: 20th outubro 2015 by Vanessa Barbara in Caderno 2, Crônicas, O Estado de São PauloTags: Larissa MacFarquhar, New Yorker
O Estado de São Paulo – Caderno 2
19 de outubro de 2015
por Vanessa Barbara
Enquanto você está aí lendo o jornal, Aaron Pitkin dedica todas as horas de sua vida tentando mitigar o sofrimento das galinhas. Enquanto você vai a uma confeitaria chique e gasta doze reais num brigadeiro gourmet, Julia Wise doa o salário inteiro para instituições de caridade. Também a enfermeira Dorothy Granada decidiu largar uma vida de classe média para enfrentar uma guerra civil e cuidar de mulheres pobres na Nicarágua. E Paul Wagner achou que ter dois rins era uma extravagância, portanto doou um deles para um desconhecido.
Lançado há pouco mais de duas semanas, Strangers Drowning é um livro de não ficção sobre pessoas que resolvem devotar suas vidas a ajudar os outros. A obra, escrita por uma jornalista da New Yorker, Larissa MacFarquhar, apresenta uma série de perfis sobre esses notáveis indivíduos que seguem diretrizes éticas muito rígidas e extremas estabelecidas por eles mesmos, na esperança de tornar melhor o mundo onde vivem.
Não é, porém, um livro sobre a vida de santos. Naquilo que é uma de suas principais qualidades, junto com o dom de contar histórias, MacFarquhar cuida para que haja complexidade nos relatos, expondo tanto os feitos heroicos de seus personagens quanto seus momentos de fraqueza; abordando os dilemas que eles enfrentam, as contradições de suas ideias e o preço que eles têm de pagar. Alguns fazem boas ações em detrimento do bem-estar de seus próprios familiares, como o indiano que abriu um leprosário e levou a esposa e os filhos, ainda bebês, para uma região remota e perigosa. Não há respostas fáceis.
O título se refere a um ensaio do filósofo utilitarista Peter Singer, que afirma que a maioria de nós, ao se deparar com uma criança se afogando, correria para salvá-la. Que diferença faz, então, se essa criança não estiver na nossa frente, mas em outra parte do mundo?
A história mais impressionante é a de Hector e Sue Badeau, um casal que adotou vinte crianças, muitas delas com deficiências graves e doenças terminais. No meio da narrativa, a autora enumera os resultados: três filhos morreram, dois foram presos e nove engravidaram muito jovens. O leitor pode considerar que o casal fracassou na empreitada, mas MacFarquhar pondera: o que seria dessas crianças se não tivessem um lar? Além disso, a maioria hoje está bem empregada e feliz, e todo ano há uma tonelada de aniversários, casamentos e batizados dos netos e dos bisnetos.
Em nenhum momento, o livro se presta a dar lições de moral; limita-se a narrar as histórias. Em certo trecho, ela cita uma frase do ensaísta James Baldwin que se aplicaria ao seu próprio livro: “Apenas nessa rede de ambiguidade e paradoxo, nessa fome, perigo e escuridão é que podemos nos encontrar. […] Esse poder de revelação é a missão do escritor, uma jornada rumo a uma realidade mais vasta que deve tomar precedência sobre quaisquer outras pretensões.”
Coxinhas vs. Petralhas
Posted: 15th outubro 2015 by Vanessa Barbara in Caderno 2, Crônicas, O Estado de São PauloTags: ódio, Relatos Selvagens
O Estado de São Paulo – Caderno 2
12 de outubro de 2015
por Vanessa Barbara
Outro dia, minha mãe foi levar comida para os moradores de rua que vivem aqui no bairro. Estava conversando com eles quando passou um carro bem devagarzinho e o motorista gritou, enfurecido: “Leva pra casa!”.
Parece que expressar o ódio agora é moda. Qualquer cidadão pacato, homem de família e cumpridor das leis pode virar bicho quando vê algo de que discorda: tenta atropelar um ciclista só por estar na ciclovia que ele desaprova, diz que tinham que ter matado todo mundo em 1968, invade velórios só para ofender, deseja que a presidente morra de câncer e faz votos de que a família da cronista seja esquartejada.
Nada contra discordar de quem pensa diferente e dialogar de forma respeitosa, o problema é quando vem o desprezo. Em seguida, o ódio – instantâneo e avassalador, desses que acabam por botar fogo em índio, atirar em haitianos e agredir homossexuais com lâmpadas.
As redes sociais viraram um campo de batalha aberto, com parentes cuspindo uns nos outros e ameaças de morte pipocando às claras. Como se a simples existência da diferença fosse uma ameaça suficiente para decidirmos aniquilá-la.
Lembrei de um dos segmentos do filme argentino “Relatos Selvagens”, no qual um homem com um automóvel blindado tenta ultrapassar o motorista de um carro velho na estrada. Este, por algum motivo, decide impedir a passagem.
Quando o cara do blindado por fim ultrapassa, grita pesados insultos enquanto acelera. Só que, mais à frente, o pneu fura e ele é obrigado a parar. O motorista de trás o alcança. Desafia o homem a repetir os xingamentos. O rico se tranca no carro e tenta chamar a polícia.
Começa ali uma briga surreal em que o insultado defeca no para-brisas do outro e tenta destroçar o vidro com uma chave de roda. O mais abonado decide jogar o carro do rival num barranco e depois tenta atropelá-lo. Por fim, seu carro também cai na vala e ele fica preso. O outro entra pelo porta-malas com um pé-de-cabra e é recebido a golpes de extintor de incêndio. O motorista do blindado tenta escapar e se enforca no cinto de segurança. Os dois carros explodem.
Trata-se de uma fábula que se encaixa com perfeição no Brasil de hoje, e é onde iremos parar se continuarmos chamando uns aos outros de escória, vagabundo e corja.
São muitos os sinais de que perdemos o controle e a empatia; basta entrar nos comentários dos sites de notícias. Em uma matéria sobre o papa, alguém vituperou contra o MST. Em outra sobre a medalha Fields, alguém falou em ditadura bolivariana. Em uma notícia sobre o assassinato de um policial, enumeram casos de violência da PM; em outra sobre a execução de um garoto negro, enumeram casos de mortes de policiais. Vejo pessoas comemorando execuções, desdenhando do sofrimento alheio, maltratando, insultando e formando grupos de linchamento.
Vamos todos acabar carbonizados, puxando o cabelo uns dos outros.
Nos tempos do mimeógrafo
Posted: 6th outubro 2015 by Vanessa Barbara in Caderno 2, Crônicas, O Estado de São PauloTags: bandeirantismo, escotismo, Núcleo Bandeirante Acauã
O Estado de S. Paulo – Caderno 2
5 de outubro de 2015
por Vanessa Barbara
No próximo dia 10 de outubro, o Núcleo Bandeirante Acauã vai completar 50 anos de existência. Ainda que a data não tenha nenhuma importância no esquema cósmico das coisas e tampouco esteja propensa a aparecer em destaque no jornal A Gazeta da Zona Norte ou, vá lá, no informativo bimestral O Saresteiro, não há como negar sua relevância para esta pessoa que já foi muito pequena e usou saia azul-marinho com lenço colorido.
Fui bandeirante por mais de uma década, dos 7 aos 19 anos, e é provavelmente uma das coisas que mais me influenciou nesta vida, junto com a literatura, o vôlei e o YouTube. O bandeirantismo me ensinou a pensar fora da caixa, e com essa caixa montei foguetes, palácios, pirâmides e forrei o chão das barracas para passar menos frio. Aprendi a enxergar as coisas usando a lógica dos jogos, montando quebra-cabeças e encontrando pistas, achando graça em tudo e inventando outros mundos – um pouco como uma literatura aplicada que você pode dividir com os amigos.
No Acauã, passei por todos os ramos e depois virei coordenadora. Tirei quase todos os distintivos e especialidades do livro, de “técnicas de campo” a “salvamento de fogo”, passando por “jornalismo”, “cozinha”, “fotografia”, “observação de animais”, “esportes”, “costura”, “cortesia”, “datilografia”, “primeiros socorros” e “higiene infantil”.
Aprendi a manejar pirógrafos, mimeógrafos, bússolas, marretas e extintores de incêndio; descobri como se constroem fossas e se montam mesas de bambu; como acender lampiões e como se orientar pelas estrelas. Me ensinaram a fazer reanimação cardiorrespiratória, a tratar queimaduras e a improvisar tipoias. Decorei músicas excêntricas; participei de um número infinito de peças de teatro; paguei mico publicamente em ocasiões variadas; joguei xadrez com deficientes visuais; aprendi nós e o Código Morse; fui imbatível na travessia de rios em cima de cordas. Quase tirei brevê de radioamador. Planejei gritos de guerra, jogos noturnos, cerimoniais e esquetes; montei fogueiras; chafurdei na lama; aprendi a hastear bandeiras e a assar pão de caçador. Trabalhei em asilos e centros de proteção animal. Plantei árvores. Presenciei explosões de bujões e tomei banho de caneca.
A despeito de possuir uma origem militar, o bandeirantismo tinha seu lado progressista: falava de ecologia e sustentabilidade numa época em que quase ninguém se importava com isso, incentivava o debate, acolhia a diversidade e valorizava a independência dos pequenos. O Acauã era ainda mais notável nesse aspecto, sendo um grupo bastante heterogêneo que vivia acampando com os escoteiros e ganhando medalhas de recolhimento de lixo em parques. (A propósito: hoje não há grandes diferenças entre escotismo e bandeirantismo; ambos são mistos e possuem valores parecidos.)
Talvez os 50 anos do meu velho grupo não rendam uma notícia de jornal, mas podemos dizer que, no fim das contas, renderam uma cronista.
Amnésia artística
Posted: 28th setembro 2015 by Vanessa Barbara in Caderno 2, Crônicas, O Estado de São PauloTags: Gene Hackman, Operação França, rabanete
O Estado de S. Paulo – Caderno 2
28 de setembro de 2015
por Vanessa Barbara
Há casos bem mais graves: conheço a história de uma inglesa de 28 anos que acorda todos os dias achando que é 15 de outubro de 2014, dia em que escorregou, bateu a cabeça e perdeu a capacidade de criar novas memórias. E de outra inglesa, de 35 anos, que sofreu um derrame e simplesmente perdeu 13 anos de lembranças – quando acordou, no hospital, não reconheceu o marido e nenhum dos três filhos, além de estranhar imensamente o fato de seu irmão estar calvo.
Em comparação a esses casos, não passa de um leve incômodo o que às vezes ocorre comigo: esqueço por completo o enredo de livros e filmes, ainda que os tenha assistido nesta década e gostado muito. Um exemplo: outro dia assisti de novo ao longa Operação França, que devo ter visto pela primeira vez há menos de dez anos, e as três coisas que lembrava dele eram as seguintes: a) que adorei o filme; b) que é com o Gene Hackman; e c) que nele há uma cena lendária de perseguição.
Qual foi o meu espanto ao perceber que a perseguição se dava entre um carro e um trem do metrô, detalhe de menor importância que sumiu por inteiro da minha memória. Todo o resto do enredo era uma incógnita: por exemplo, qual era a profissão do personagem de Gene Hackman? Na minha cabeça, ele podia ser mímico, motoboy, cientista nuclear, dançarino. (Resposta: policial.) A cidade era Chicago ou San Francisco? (Resposta: Nova York.)
Isso acontece com praticamente todos os filmes e muitos dos livros que passam pelas minhas mãos: de Os irmãos Karamazov, me recordo que li na praia e que Alieksiéi tinha uns probleminhas com o pai; de Cama de gato, sei apenas que é muito engraçado; de Paralelo 42 não lembro nada. (Acho que a capa era verde.) Guardo sobretudo sensações: gostei de tal filme, odiei aquele outro, fiquei com pena de um personagem que não lembro qual é. De Amnésia, aliás, só guardei o tema.
Assistir várias vezes é útil, mas não resolve completamente o problema: já repassei a série The Wire três vezes, e ainda me surpreendo imensamente com certas mortes. “Você não lembrava disso? Sério que você não tinha a menor recordação disso?”, me perguntam. Acho péssimo quando decido ver de novo algum filme e a pessoa ao meu lado, com quem já assisti àquilo uma vez, diz, animadamente: “Esse é ótimo! Lembra daquela cena em que a moça ajoelha na terra e arranca um rabanete?”. E eu respondo: “Não. Por favor, não me conte.”
Acho que sou a única criatura do mundo vulnerável a spoilers de séries que já vi e, pior, vulnerável a spoilers vindos de mim mesma, o que às vezes ocorre quando leio uma resenha antiga que publiquei em algum lugar. Outro dia, fui pesquisar sobre um assunto e encontrei um texto que me causou boa impressão por ser particularmente elegante e altivo. Só lá pelo final vi que era meu.
Nesse ritmo, está próximo o dia em que lerei, com surpresa, os romances que eu mesma escrevi.
Um pica-pau para consertar meu cérebro (tradução)
Posted: 28th setembro 2015 by Vanessa Barbara in TraduçõesTags: depressão, dr. Moacyr Rosa, Estimulação Magnética Transcraniana, Gipsy Kings
The International New York Times
28 de setembro de 2015
por Vanessa Barbara
Contributing Op-Ed Writer
Era como se um pica-pau tivesse confundido minha cabeça com uma árvore e decidido bicar freneticamente a área acima da têmpora. Ou como se um minúsculo soldado tivesse disparado uma metralhadora no meu crânio.
Não chegava a doer; era mais uma sensação esquisita de pressão no couro cabeludo. Na minha primeira sessão de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), dois meses atrás, tentei ignorar o fato de que uma máquina estava induzindo correntes magnéticas no meu cérebro, fingindo que, em vez disso, eu estava fazendo uma peculiar depilação a laser em cada um dos meus neurônios. (Definitivamente louca, você vê.)
A EMT é um procedimento que aplica pulsos magnéticos para estimular o córtex pré-frontal dorsolateral, na esperança de aliviar os sintomas da depressão. O médico posiciona a bobina eletromagnética num ponto específico da cabeça do paciente. Quando ativado, o dispositivo cria um campo magnético pulsado, similar ao produzido por uma máquina de ressonância magnética, que passa diretamente para o cérebro, alterando a corrente elétrica dos neurônios com vistas a incitar ou “resetar” o sistema regulador de humor.
Nas minhas sessões, contei dez segundos de um som rápido e agudo, tipo ra-ta-ta-ta, seguidos de vinte segundos de inatividade. A sequência era repetida por 30 minutos, totalizando cerca de 6 mil pulsos. (Nos Estados Unidos, diferentes parâmetros resultam em 3 mil pulsos por sessão.)
A técnica é recomendada para pacientes cuja depressão não respondeu a antidepressivos ou que não toleram os efeitos colaterais dos medicamentos. Surgiu como alternativa para a terapia eletroconvulsiva (ECT), anteriormente conhecida como eletrochoque, uma técnica altamente estigmatizada e mais invasiva que induz uma convulsão controlada no cérebro, exigindo, portanto, a anestesia geral em um ambiente hospitalar. Na ECT, pode haver complicações cardiovasculares e efeitos colaterais cognitivos como perda de memória. A EMT, por sua vez, é um procedimento não convulsivo que pode ser executado numa clínica ou consultório médico; os pacientes permanecem acordados e alertas durante toda a sessão. Além de dor de cabeça e um pequeno risco de convulsão, não há efeitos colaterais.
De acordo com o manual de práticas da Associação Americana de Psiquiatria, há um número substancial de estudos sobre a EMT, mas a maioria utilizou amostras pequenas ou parâmetros muito variáveis, com resultados inconsistentes. Pesquisas recentes revelaram “benefícios relativamente pequenos a moderados” da EMT sobre uma falsa estimulação. O Instituto Nacional de Saúde Mental também afirmou que os testes clínicos apresentaram “resultados contraditórios”. Em 2008, a agência regulatória americana (FDA) aprovou a técnica para uso em transtorno depressivo maior refratário, e logo se seguiram países como Austrália, Israel e Canadá. No Brasil, a EMT é alvo de pesquisas há dezesseis anos e foi aprovada em 2012 para o tratamento da depressão unipolar e bipolar.
Resultados animadores obtidos por alguns médicos locais atraíram a atenção do meu psiquiatra, que sugeriu que eu experimentasse a técnica. Há dez anos tento lidar com a depressão, tendo experimentado quatro tipos de terapia da fala, incluindo terapia cognitivo-comportamental por um ano e meio (foi divertido) e psicanálise lacaniana por nove meses (que eu odiei). Tentei fototerapia, meditação mindfulness, yoga e sapateado.
Quando finalmente cheguei ao médico da EMT, um especialista em estimulação magnética e elétrica, levava comigo uma longa lista de medicamentos psicotrópicos, todos tomados no passado sem nenhum (ou com pouco) efeito discernível. É um inventário que inclui 23 drogas diferentes em inúmeras classes como os antidepressivos tricíclicos (Tofranil, Anafranil), todo tipo de inibidor seletivo de receptação de neurotransmissores (Prozac, Zolof, Effexor, Lexapro, Luvox, Paxil, Wellbutrin, Cymbalta), um antidepressivo melatoninérgico, benzodiazepínicos, anxiolíticos, sedativos, hipnóticos, estimulantes, um estabilizador de humor e até anticonvulsivantes e antipsicóticos (embora eu não seja bipolar). Nesse ponto, fiquei oficialmente exausta e decidi parar com os remédios por um tempo. Desde então, continuei igual: triste, desanimada e ansiosa, com um índice de 31 na Escala de Depressão de Beck – uma depressão moderada a severa.
É preciso ter paciência para encarar meia hora de EMT cinco vezes por semana, por pelo menos três semanas seguidas. No início, as marteladas insistentes podem causar dor ou desconforto. Às vezes você sente um tremor nos olhos e uma contração no rosto ou na mandíbula, então é preciso pedir para o médico ajustar a angulação da bobina ou, coloquialmente, “fazer alguma coisa porque o meu rosto está esquisito”. Embora seja permitido ler ou ouvir música durante as sessões, escolhi ficar quieta e com os olhos abertos, supostamente meditando, mas na verdade torcendo para que o campo magnético de um Tesla me conferisse poderes de telepatia ou telecinese, ou de repente algum tipo de roteador embutido que me fornecesse uma conexão 3G verdadeiramente móvel.
O tratamento não é apenas demorado como também caro: no Brasil, a EMT custa aproximadamente 300 reais por sessão (US$85), com um custo total de 1,7 mil dólares para quatro semanas de terapia. (E eu ganho um salário mensal de 1,5 mil dólares). Nos Estados Unidos, de acordo com uma matéria na Scientific American, o custo de uma sessão é de 300 dólares. Como o tratamento completo geralmente requer de 20 a 30 sessões, a conta total pode variar de 6 a 9 mil dólares.
Até agora, fiz 19 sessões. Me senti um pouco melhor após a segunda semana, embora seja difícil determinar se a mudança era real ou mesmo se podia ser atribuída ao tratamento. A única coisa que reparei com certeza foi que fiquei mais atormentada por pensamentos de músicas repetitivas: por três sessões seguidas, não conseguia tirar da cabeça “Bamboleo”, dos Gipsy Kings; ela foi mais tarde substituída por “Mahna Mahna”, dos Muppets, e pela canção do “Trololo”, de Eduard Khil. Se cheguei a melhorar, foi por pouco tempo: lá pela terceira semana, as coisas voltaram à tristeza habitual, e por lá parecem continuar.
Na última sessão, pouco antes de acionar o pica-pau, meu médico disse que talvez eu devesse considerar fazer ECT. Pelos trinta minutos seguintes, enquanto meus olhos tremiam, meus pensamentos giraram repetidamente sobre o assunto: “Mahna Mahna/ Do doo be-do-do”.
Vanessa Barbara é cronista do jornal O Estado de São Paulo, editora do site literário A Hortaliça e colunista de opinião do INYT.
Este texto foi publicado em inglês no The International New York Times do dia 28 de setembro de 2015. Tradução da autora.
A woodpecker to fix my brain
Posted: 28th setembro 2015 by Vanessa Barbara in New York Times, ReportagensTags: depression, Gipsy Kings, psychiatry, psychotropic, TMS, Transcranial Magnetic Stimulation
The International New York Times
September 28, 2015
by Vanessa Barbara
Contributing Op-Ed Writer
SÃO PAULO, Brazil — It felt as if a woodpecker had mistaken my head for a tree, and was tapping frantically at the area above the temple. Or maybe as if a tiny soldier were firing a tiny machine gun at my skull.
It didn’t exactly hurt; it was more like a weird sensation of pressure at the scalp. In my first session of repetitive transcranial magnetic stimulation, two months ago, I tried to ignore the fact that a machine was delivering magnetic currents to my brain, pretending instead that I was doing a peculiar laser hair removal in each one of my neurons. (Definitely a crazy person, you see.)
T.M.S. is a procedure that applies magnetic pulses to stimulate the brain’s left dorsolateral prefrontal cortex, in the hope of alleviating the symptoms of depression. The doctor places an electromagnetic coil at a specific point on the patient’s skull. When activated, the device creates a pulsed magnetic field, of a similar magnitude to that produced by an M.R.I. machine, which passes readily into the brain, altering the brain’s electrical current in order to arouse or “reset” the mood regulatory system.
In my sessions, I counted 10 seconds of a quick and loud rat-a-tat-tat tapping sound, followed by 20 seconds of inactivity. That sequence was repeated for 30 minutes, amounting to a total of 6,000 pulses. (In the United States, different treatment parameters result in 3,000 pulses per session.)
The technique is often recommended for patients whose depression has not responded to antidepressants or who cannot tolerate the side effects of the drugs. It has emerged as an alternative to electroconvulsive therapy (ECT), formerly known as shock treatment, a highly stigmatized and more invasive technique that induces a controlled brain seizure, thus requiring general anesthesia in a hospital setting. In ECT, there may be cardiovascular complications and cognitive side effects such as memory loss. T.M.S., on the other hand, is a nonconvulsive procedure that can be performed in a clinic or a physician’s office; patients stay awake and alert during the session. Other than headaches and a small risk of seizure, there are no side effects.
According to the American Psychiatric Association practice guidelines, “a substantial number of studies of T.M.S. have been conducted, but most have had small sample sizes” or too-variable parameters, and have yielded uneven results. Studies have recently found “relatively small to moderate benefits” of T.M.S. over sham stimulation. The National Institute of Mental Health also says that clinical trials revealed “mixed results.” In 2008, the United States Food and Drug Administration approved the technique for use in treatment-resistant major depressive disorder, and it’s also in use in Australia, Israel and Canada. In Brazil, T.M.S. has been a subject of research for 16 years and was approved in 2012 as a treatment for both unipolar and bipolar depression.
Encouraging results from local practitioners drew the attention of my psychiatrist, who suggested I should give it a try. I have spent 10 years unsuccessfully pushing off depression, experimenting with four types of talk therapy, including cognitive behavioral therapy for a year and a half (it was fun) and Lacanian psychoanalysis for nine months (which I hated). I tried light therapy, mindfulness meditation, yoga and tap dance.
When I finally got to my T.M.S. doctor, an expert in electrical and magnetic brain stimulation, I had amassed a long list of psychotropic medications, all taken in the past with no discernible, or very little, positive effect. It is an inventory that includes 23 different drugs in several classes such as tricyclic antidepressants (Tofranil, Anafranil), all kinds of neurotransmitter reuptake inhibitors (Prozac, Zoloft, Effexor, Lexapro, Luvox, Paxil, Wellbutrin, Cymbalta), a melatonergic drug, benzodiazepines, anxiolytics, sedatives, hypnotics, stimulants, a mood stabilizer and even anticonvulsants and antipsychotics (although I’m not bipolar). At that point, I was officially tired and decided to stop taking medication for a while. Since then, I’ve stayed the same: sad, dispirited and anxious, with a score of 31 in the Beck Depression Inventory — a moderate to severe depression.
It takes a diligent person to endure half-hour T.M.S. sessions five days a week, for at least three weeks in a row. In the beginning, the constant hammering can cause pain or discomfort. Sometimes you feel your eyes twitching and your face or jaw muscles contracting, so you ask the doctor to adjust the coil angulation or, colloquially, “do something because my face feels funny.” Although one is allowed to read or listen to music during sessions, I chose to stay quiet, with my eyes open, allegedly meditating but actually dreaming that the magnetic field of one tesla would give me powers of telepathy or telekinesis, or maybe some kind of inner wireless router that would provide me with a free mobile 3G Internet connection.
The treatment is not only time-consuming but expensive: in Brazil, T.M.S. is in the range of 300 reais per session ($85), with a total cost of $1,700 for four weeks’ therapy. (And I earn a monthly salary of $1,500.) In the United States, according to an article in Scientific American, the cost of a typical session is $300. As the whole treatment often requires 20 to 30 sessions, the total bill could amount to something between $6,000 and $9,000.
I’ve done 19 sessions so far. I felt a little better after the second week, though it is difficult to say exactly whether it was a real change or even if any small progress could be attributed to the treatment. The only thing I’ve noticed for sure is that I became more tormented by thoughts of repetitive catchy songs: for three sessions in a row, I couldn’t stop playing “Bamboléo,” by the Gipsy Kings, in my head; this was later replaced by “Mahna Mahna,” by the Muppets, and the “Trololo” song, by Eduard Khil. If I did improve, it was briefly: by the third week, things went back to the usual sadness, where they seem to remain.
Last session, just before turning on the woodpecker, my physician said maybe I should consider getting ECT. For the next 30 minutes, while my eyes twitched, my thoughts resolutely looped around that matter: “Mahna Mahna/ Do doo be-do-do.”
Vanessa Barbara is a columnist for the Brazilian newspaper O Estado de São Paulo and the editor of the literary website A Hortaliça.
A version of this op-ed appears in print on September 28, 2015, in The International New York Times.